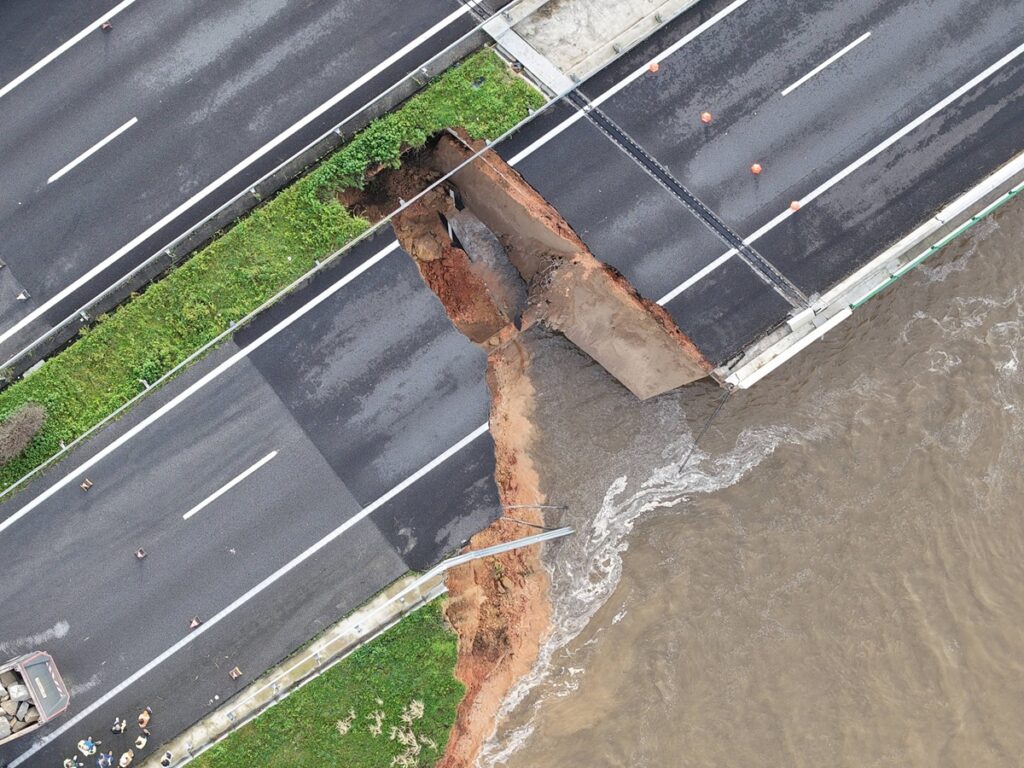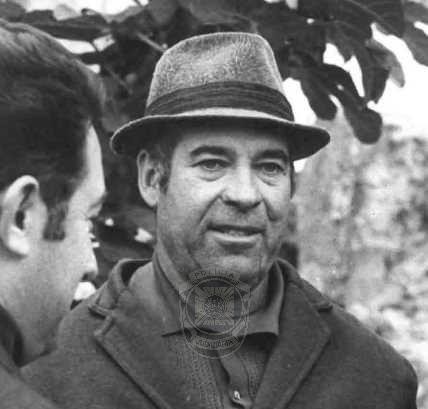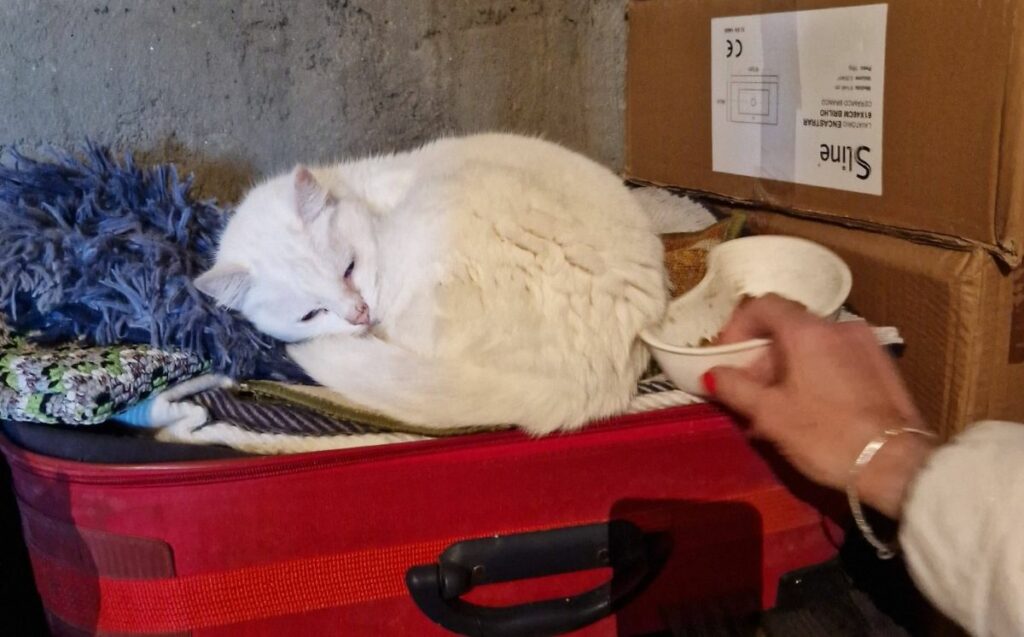O cansaço deixou de ser apenas uma queixa individual para se tornar um fenómeno social e cultural. Cada vez mais falado como “a grande exaustão”, este estado de desgaste físico, mental e emocional tem vindo a ganhar espaço no debate público, sobretudo após a pandemia.
Muitas pessoas relatam já não encontrar energia sequer para atividades que antes consideravam prazerosas, como ir à praia ou praticar exercício físico. Outras confessam adormecer no sofá por falta de forças para se deslocarem até à cama. O padrão repete-se: o descanso deixou de ser restaurador e o dia-a-dia transformou-se numa sucessão de tarefas extenuantes.
Os números confirmam a tendência. Um estudo da consultora Boston Consulting Group com 11 mil trabalhadores em oito países revelou que 48% sofrem de burnout. No Brasil, a Associação Nacional de Medicina do Trabalho estima que 40% da população ativa enfrente o problema, e os afastamentos laborais por burnout aumentaram quase 1.000% em dez anos, pode ler-se na revista Galileu Galilei.
PUBLICIDADE
O fenómeno não é novo, mas ganhou novos contornos. Nos anos 1970, o psicólogo Herbert J. Freudenberger identificou e descreveu pela primeira vez o burnout, associando-o ao excesso de trabalho. Desde 2022, a Organização Mundial da Saúde reconhece-o oficialmente como uma síndrome resultante de stresse crónico no trabalho.
Especialistas, no entanto, distinguem burnout da chamada “grande exaustão”. Esta última não está necessariamente ligada ao emprego: pode resultar de incertezas, inseguranças ou da falta de perspetivas de vida.
A exaustão não é exclusiva da modernidade. Desde a Antiguidade que filósofos, médicos e escritores descrevem o fenómeno, atribuindo-lhe diferentes causas: da influência da mente sobre o corpo, na Grécia, a desequilíbrios físicos no período romano, ou até a falhas espirituais na Idade Média.
No século XIX, com a industrialização e a vida urbana, a exaustão passou a ser vista como reflexo das pressões modernas. Termos como “neurastenia” já traduziam o mal-estar de uma época marcada pela aceleração social.
No mundo atual, marcado pela hiperconexão digital e pela lógica da produtividade incessante, a fronteira entre vida pessoal e trabalho tornou-se ténue. Estar sempre disponível, fazer “mais com menos” e transformar até as qualidades pessoais em “competências vendáveis” intensificaram a fadiga coletiva.
O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han chamou a este paradigma a “sociedade do cansaço”: um sistema em que as pessoas se cobram a si próprias e se tornam vigilantes e carrascas de si mesmas.
Entre os sinais mais comuns de exaustão estão dores musculares, distúrbios do sono, problemas gastrointestinais, perda de interesse por atividades de lazer e dificuldade em manter relações sociais. A longo prazo, a exaustão crónica pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, ansiedade e depressão.
Especialistas sugerem medidas individuais simples, mas eficazes: respeitar os próprios limites, criar pausas no dia-a-dia, cuidar da alimentação, praticar exercício físico, regular o sono e cultivar relações saudáveis. Contudo, sublinham que a solução não pode ser apenas individual — é preciso rever as condições de trabalho e os modelos sociais que favorecem o esgotamento.
Para a psicóloga Christina Maslach, pioneira nos estudos sobre burnout, tanto este como a “grande exaustão” são sinais de alerta: “São como um canário numa mina de carvão. Avisam que há algo errado”.
O desafio é transformar o cansaço coletivo não apenas numa queixa difusa, mas num ponto de partida para mudanças sociais mais profundas. Afinal, a pergunta que fica é: teremos energia para alterar o sistema que nos esgota?