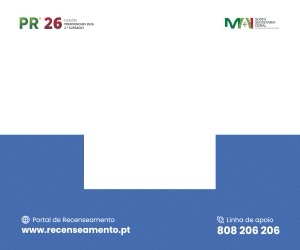Não esquecemos que temos memória; escolhemos ignorá-la. O silêncio que tantas vezes se apresenta como prudência é, na verdade, cumplicidade. Não há neutralidade possível perante o autoritarismo, apenas diferentes graus de adesão. Foi assim nas ditaduras e é assim, hoje, nas democracias que se proclamam livres enquanto toleram a erosão dos seus próprios fundamentos.
Sem compreender plenamente o maniqueísmo, insistimos nele. Reduzimos a complexidade do mundo a um jogo primário entre “bons” e “maus”, confortável porque dispensa pensamento critico e, às vezes, é conveniente porque legitima exclusões. Perguntar de que lado estamos tornou-se um exercício retórico, não um compromisso real. A imaginação ajuda a suportar a realidade, mas também serve para a iludir: preferimos a imagem da cidade limpa à travessia árdua que a tornou possível.
A democracia não se constrói com metáforas, mas com escolhas concretas. Queremos os resultados sem aceitar o processo. Tal como desejar um bolo de maçã sem sujar as mãos ou sem reconhecer o trabalho de quem o fez. A receita é simples, mas o que falta não são ingredientes — é paciência, responsabilidade e disposição para o esforço coletivo.
É neste ponto que a liberdade se degrada. Reivindicamos direitos enquanto rejeitamos deveres, proclamamo-nos cidadãos enquanto abdicamos da participação crítica. Somos animais políticos apenas no discurso; na prática, refugiamo-nos na individualidade, transformada em dogma, e no pensamento fixo, convertido em trincheira. Assim se erguem fronteiras invisíveis, se normaliza a injustiça e se esvazia a democracia, não por ataque externo, mas por abandono interno.